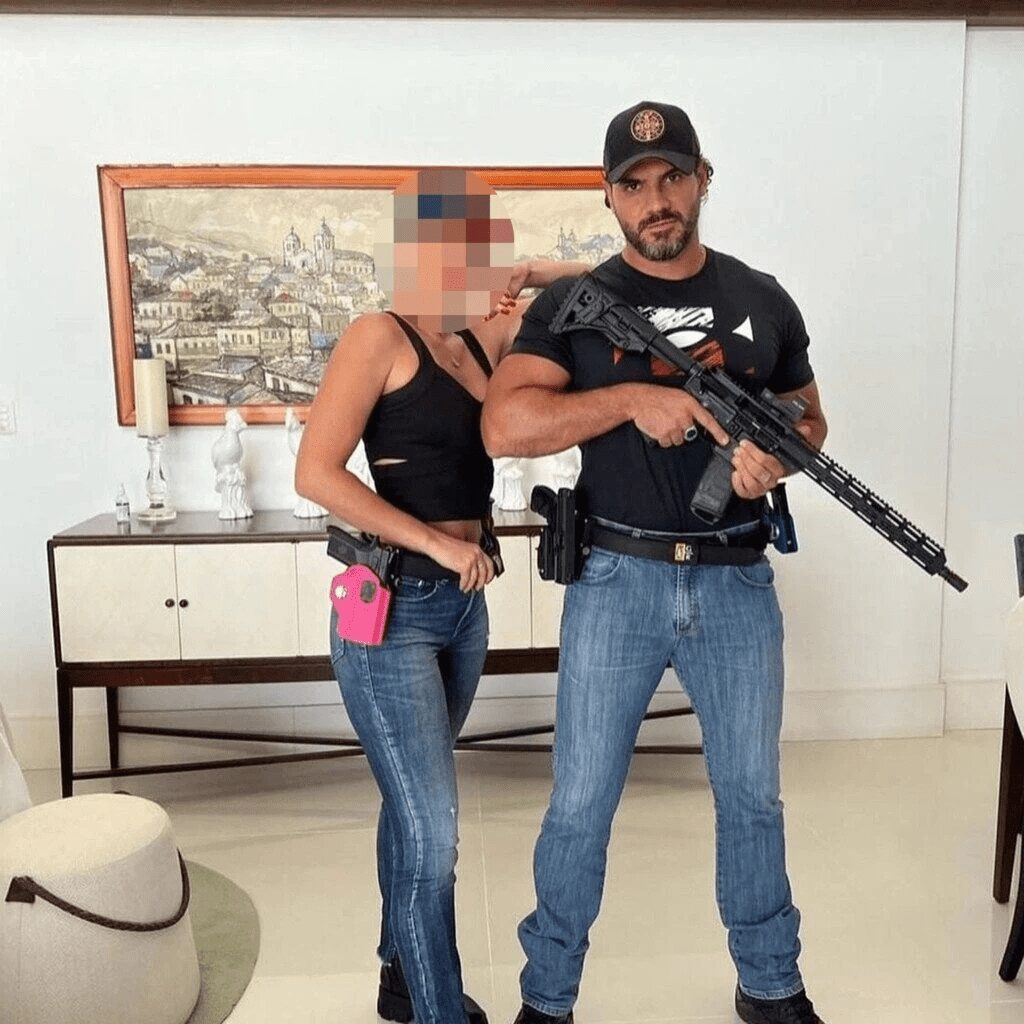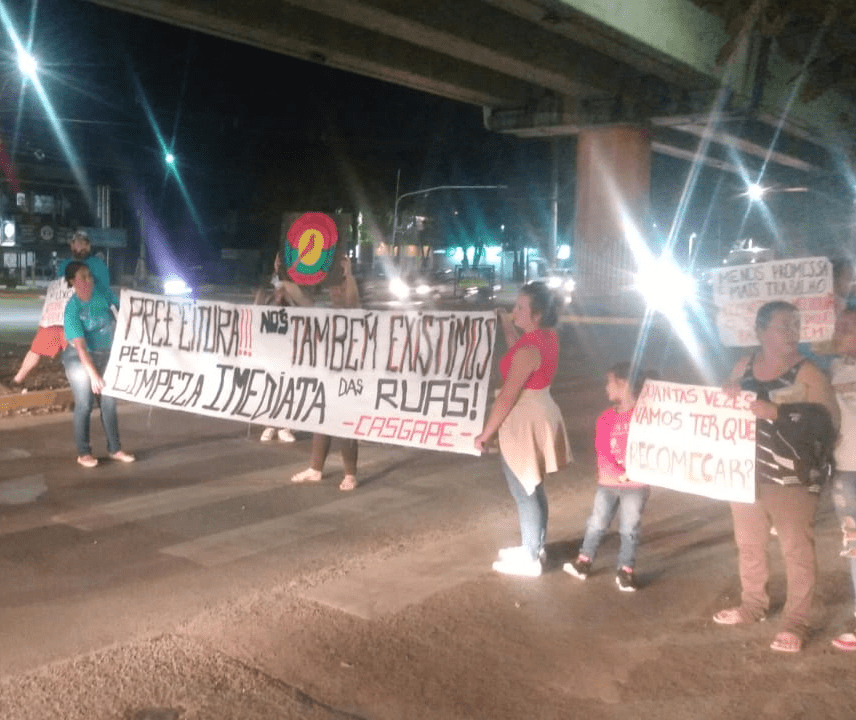1
Uma das passagens mais célebres da literatura latino-americana é a pergunta de um personagem de Mario Vargas Llosa em Conversa na Catedral sobre em que preciso instante histórico seu país (o Peru) desandou. Tal indagação pode ser transposta a qualquer nação, mas em poucas há uma resposta tão clara quanto no Brasil: com o golpe de 1964.
Naquele momento, nosso país se perdeu na encruzilhada mais transcendental com que se deparou. Longe de ter propiciado uma correção de rumo, os quase 40 anos transcorridos desde o fim do regime ali instaurado só aprofundaram esse extravio.
Para dimensionar a tragédia então iniciada, não basta um balanço histórico da ditadura que aquele ato inaugurou: é preciso analisar também o regime a que os golpistas puseram fim e o que eles moldaram a seu bel-prazer para sucedê-la.
2
O governo João Goulart foi, de longe, o mais democrático e favorável aos trabalhadores entre quantos este país teve. Por isso, ele foi o único presidente brasileiro a morrer no exílio, impedido que estava, havia 12 anos, de pisar solo pátrio. Assassinado, quase certamente.
Pela mesma razão, foi deposto, e não com patos de borracha – aos quais, por mais pacífico e conciliador que fosse, não teria cedido – , mas por meio de força militar, inclusive externa: a marinha dos EUA deslocou navios de guerra para o litoral brasileiro, ato final de um esforço que envolvera espionagem e entrega de armas e de dinheiro grosso a civis e militares golpistas. Resposta ao controle das remessas de lucros das multinacionais, à nacionalização de algumas empresas e à política externa independente.
Ensombrecidas por 70 anos de difamação sistemática e também por seu próprio, grave e trágico erro de não resistir ao golpe, suas virtudes devem ser reconhecidas e recordadas.
João Belchior Marques Goulart foi um democrata na acepção plena da palavra: alguém sinceramente comprometido com os direitos do povo trabalhador a salários e aposentadorias dignos, à terra, à moradia, à educação e à saúde. Na cidade e no campo.
Quanto às liberdades civis constitutivas da acepção mínima que seus detratores de ontem e de hoje soem considerar máxima e contrapor a esses direitos, também se saía melhor que eles: já em 1953, como ministro do Trabalho, assegurou aos operários as de associação, pensamento e expressão, pondo fim às intervenções governamentais nos sindicatos e ao “atestado de ideologia” com o qual os pretendentes a dirigi-los tinham que provar não serem comunistas.
Seu ministério foi, de longe, o mais avançado ideologicamente e o de mais alto nível intelectual e moral que o Brasil teve. Integraram-no, entre outros: Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Evandro Lins e Silva, Waldir Pires, Hermes Lima, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Comparem-se a isso as equipes de governo de partidos cheios de professores universitários e outras gentes de formação livresca, como o PSDB e o PT.
O próprio Goulart é autor do último documento de estadista produzido por um presidente brasileiro – tanto mais porque confirmado com atos: seu discurso na Central do Brasil, feito de improviso: https://memoria.ebc.com.br/cidadania/2014/03/discurso-de-jango-na-central-do-brasil-em-1964 e https://soundcloud.com/tema-livre/jo-o-goulart-13-03-1964
3
Algo mais importante que essas qualidades pessoais confluiu com elas e fez com que, por única vez em nossa história, a libertação nacional tenha estado ao alcance das mãos: o grau de consciência e mobilização do povo brasileiro atingiu, na época, seu pico histórico.
O poder dos trabalhadores organizados e do povo em geral era capaz de se sobrepor ao das Forças Armadas e do Congresso; e, ao mesmo tempo, de inspirar, dentro dessas e de outras instituições importantes, adesões e simpatias que colocavam em xeque o domínio da tríade imperialismo-latifúndio-burguesia burocrática sobre elas e sobre o país.
Foi o povo que, em agosto/setembro de 1961, com a lei e as armas, garantiu – sob a liderança de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul – a posse de Goulart, sucessor constitucional do renunciante Jânio Quadros, derrotando o afã golpista dos ministros militares.
Essa investidura se deu com poderes reduzidos: o Congresso, com anuência do próprio Jango, instituiu o parlamentarismo e marcou para o fim do mandato dele (1965) um referendo sobre a continuidade ou não de tal sistema.
Em setembro de 1962, o mesmo parlamento rechaça antecipar o plebiscito. Dias depois, uma greve nacional convocada pelo CGT (Comando Geral dos Trabalhadores) o faz voltar atrás e adiantá-lo para janeiro de 1963, quando restaura-se o presidencialismo.
Isso conferiu ao governo João Goulart um grau de legitimidade único na história brasileira: não só eleito (para vice-presidente, porém em votação separada), mas confirmado outras duas vezes pela vontade do povo: no tocante à posse e aos poderes.
A soberania popular não era exercida apenas para assegurar prerrogativas presidenciais.
Em julho de 1962, com a renúncia do primeiro-ministro Tancredo Neves e o rechaço do Congresso a Francisco de San Thiago Dantas, um intelectual trabalhista moderado que Goulart indicara para substituí-lo, o presidente, aparentando ceder à direita, nomeia para o cargo o senador Auro de Moura Andrade. Com seu nome aprovado por 262 votos contra 51, ele não chega a tomar posse: outra greve geral o obriga a renunciar. A convocação partira do Pacto de Unidade e Ação (PUA), organismo intersindical que daria origem ao CGT.
E em maio de 1963, a Varig demite um piloto e dirigente sindical, Paulo de Melo Bastos, por questionar os subsídios governamentais à aviação privada e defender a criação de uma empresa aérea estatal, a Aerobrás. Interpretando a demissão como uma afronta, o CGT faz outra greve geral, com forte adesão na indústria e nos transportes. Melo Bastos é reintegrado.
“Foi dentro da compreensão / desse instante solitário/ que, tal sua construção,/ cresceu também o operário. (…)/ Agigantou-se a razão/ de um homem pobre e esquecido./ Razão, porém, que fizera/ em operário construído/ o operário em construção” – cantava Vinícius de Moraes. Que alguém, até então, sabidamente mais afeito à boemia do que à política compusesse tais versos, é outra boa amostra do que se vivia:
4
É fato que operários, construídos ou em construção, eram minoria num país onde, segundo o censo de 1960, 55% dos 70 milhões de habitantes viviam no campo, à margem de qualquer direito reconhecido ou serviço essencial. Como assinalou o próprio Jango no encerramento do Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, realizado em Belo Horizonte em 1961, 10 das 12 milhões de famílias camponesas da época cultivavam terra alheia.
Sua organização para pôr fim a tal quadro avançava também a cada dia. As Ligas Camponesas, concentradas no Nordeste, foram a expressão maior desse salto, que incluiu também o Master (Movimento dos Agricultores Sem Terra) gaúcho; mas, já desde a década anterior, o campesinato vinha sustentando longas batalhas em extensos territórios e medindo forças com a repressão e a pistolagem, como em Porecatu (PR) e Trombas e Formoso (GO).
“Senhores barões da terra,/ preparai vossa mortalha/ porque desfrutais da terra/ e a terra é de quem trabalha./ Chegado é o tempo de guerra/ Não há santo que vos valha (…)/ – Granada contra granada!/ – Metralha contra metralha!” – cantava também Vinícius:
Nunca antes, nem depois, governo algum enfrentou o poder dos grandes proprietários de terra. Só Goulart – ele próprio, por herança, um fazendeiro muito rico – o fez. Primeiro, estendendo a legislação trabalhista aos poucos empregados rurais e a previdenciária a todo o campesinato. Depois – e ainda mais importante – firmando em praça pública, diante de 200 mil pessoas, como primeiro passo da reforma agrária (que, como explicado por ele, a isso não se resumiria) a expropriação de todas as fazendas com mais de 500 hectares situadas a até 10 quilômetros de rodovias, ferrovias e açudes federais.
5
Na história brasileira, houve três grandes campanhas nacionais vitoriosas (Abolição, O Petróleo é Nosso e Legalidade) e uma da mesma envergadura, derrotada (Diretas Já). Duas delas, como se nota, no breve e áureo intervalo de 19 anos a que o golpe de 64 pôs fim.
Naquela noite, na Central do Brasil, o presidente empossado pela terceira anunciava a reforma agrária, declarando-a complemento da primeira; e, para consolidar a segunda, assinava outro decreto expropriatório tendo por alvo as refinarias de petróleo ainda em mãos de particulares.
Hoje, pareceria inimaginável qualquer dessas medidas e de suas circunstâncias antecedentes (o povo dar posse a um presidente vetado pela cúpula das Forças Armadas; o movimento operário desfazer decisões do Congresso sobre a extensão dos poderes presidenciais, vetar um chefe de governo indicado pelo mesmo presidente e chancelado por ampla maioria parlamentar, e reverter a demissão de um trabalhador que se posicionava contra o interesse de seus empregadores e a favor do nacional) – e também, por exemplo, o salário mínimo igualar o soldo de um tenente das FFAA, como ocorreu em 1954.
Tal foi o rebaixamento de horizontes que a ditadura instaurada em 1964 e o regime civil liberal que a sucedeu impuseram à população em todos os aspectos da vida.
6
Não se estão a esquecer os défices gravíssimos do regime de 1945-64. No campo dos direitos políticos o Partido Comunista era ilegal e, por vezes, efetivamente perseguido. Os analfabetos eram quase metade da população brasileira e quase toda a população rural, e não podiam votar nem ser votados – discriminação estendida aos cabos e soldados das FFAA. Sargentos e subtenentes votavam, mas eram inelegíveis. A correção dessas discriminações era a reforma eleitoral reivindicada pelo povo e solicitada por Jango ao Congresso.
O paradoxo é que todos eles incidiam mais no destino do país naquele momento em que se lhes negava esses direitos do que hoje, que os têm. Paradoxo de fácil explicação: o poder do povo era exercido nas ruas e locais de trabalho, mais que nas urnas.
Nas greves e mobilizações de massas que arrancaram ou reverteram tantas decisões dos poderes constituídos e/ou fáticos – e, mais ainda, nas lutas camponesas em ascensão – , ombreavam-se trabalhadores que sabiam e que não sabiam ler.
Na militância sindical que foi uma das mais importantes artífices dessas mesmas mobilizações, os comunistas faziam mais diferença do que no parlamento – onde não deixavam por completo de se estar presentes, eleitos por outros partidos.
E os praças foram decisivos para a vitória da Legalidade ao impedir que levantassem vôo os aviões que o comando da Aeronáutica mandara bombardear o Palácio Piratini.
7
Algo análogo ocorreu na educação: tanto na ditadura iniciada em 1964 quanto no regime civil subsequente, o acesso à escola foi muito ampliado e o analfabetismo despencou… junto com o discernimento e o nível cultural da população.
Em 2020, confinado como toda ela, o autor destas linhas, tentando preservar lucidez e faculdades cognitivas, dedicando, junto à sua mãe, algumas horas por dia às palavras cruzadas. Ao relançar a revista Recreativa seu primeiro número (de 1950), foram grandes as dificuldades de um jornalista, professor, tradutor e advogado, melhor que a média atual dessas profissões; e de uma professora titular de universidade federal para resolver o que, quando originalmente publicado, era passatempo de donas de casa suburbanas como Nenê, de “A Grande Família”.
Também nos anos 50-60, existiu – e chegou a ter a maior circulação do país – o jornal “Última Hora” (tudo o que se dirá sobre ele se aplica, em Minas Gerais, ao Binômio). Considerado sensacionalista e popularesco, era mal visto pelas frações mais letradas da chamada pequena-burguesia, e tinha um público composto, principalmente, por operários e funcionários administrativos de baixa hierarquia como Lineu, marido de Nenê.
Crônicas de futebol que esses homens do povo liam no aludido periódico tinham por autor Nelson Rodrigues. Em suas outras páginas, escreviam Adalgisa Nery, Marques Rebêlo, Sérgio Porto, Antônio Maria e Moacir Werneck de Castro, entre outros. Desafia-se quem quer que seja a comparar, em termos de qualidade textual e amplitude vocabular, qualquer de seus exemplares da época a algum publicado, no século XXI, pela Folha de São Paulo ou pela Veja, direcionadas ao setor social que lhe torcia o nariz; ou mesmo a publicações bem redigidas e voltadas a uma fração seleta e letrada desse mesmo público, como a Piauí e o Valor Econômico.
Nas palavras do crítico literário Roberto Schwarz, pertencente a uma tradição intelectual (a da USP) distinta e muitas vezes oposta a essa, “o país estava irreconhecivelmente inteligente”.
O período 1945-64 foi o ápice da vida democrática porque foi o ápice da vida cultural no Brasil. E vice-versa: o debate político também dava impulso à criação intelectual.
8
Disso, não estava completamente excluída sequer a totalidade dos analfabetos – nem sempre e necessariamente incultos, ignorantes ou alienados. Entre eles, havia – sobretudo no campo – , detentores de conhecimentos valiosos sobre cultivos, ciclos hidrográficos e plantas medicinais; e, especialmente no Nordeste, artistas de todos os tipos, inclusive poetas-repentistas (a rima é um recurso mnemônico ainda mais útil para quem não lê nem escreve). Coisas que, hoje, se perdem sem que as substitua (em verdade, deveria articular-se a elas) a cultura letrada – a qual não prescinde da matrícula escolar, mas com esta não se confunde.
O que ocupa o vácuo? Segundo uma moradora de bairro popular de capital nordestina, em sua rua, há 30 anos, se acendiam, em junho, algo como 30 fogueiras de São João, hoje reduzidas a duas porque os outros 28 se converteram a alguma igreja pentecostal as que proíbe [1]. Nem toda igreja ou fiel age assim, nem tal proporção se repete em todas as ruas; mas o caso denota um fenômeno amplo.
Há boas razões para não fazer fogo em via pública: riscos de queimaduras, incêndios, inalação de fumaça. Nenhuma jamais conseguiu se sobrepor à tradição. Algo muito mais irracional que ela e desprovido de seu valor sociocultural, sim.
O fanatismo religioso é um dos ingredientes (todos importados) do coquetel alienante com que o sistema de poder mata a cultura popular e a erudita. Também fazem parte dele as drogas, o consumismo e as subculturas estrangeiras declaradas nacionais por decreto em seu todo e em cada uma de suas partes denominadas em inglês [2].
9
Não se está a negar que a educação dos anos 50-60 tinha uma dimensão excludente, elitista e arbitrária – contra a qual se bateram, enérgica e decididamente, algumas das melhores figuras que aquele período deu ao Brasil. Sua derrota para o lobby católico na elaboração do que veio a ser a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 é um dos fatos mais trágicos da história nacional.
O que se nega aqui é a suposta dimensão includente e democrática da escola (exceto a pública seletiva: técnica, militar ou de aplicação), a partir dos anos 70 e, especialmente, dos 90, quando reduzidas a meros loci de administração da pobreza (a pública) ou dos privilégios (a privada) onde se emitem mais diplomas que antes, mas se ensina e aprende muito menos.
Cabem, isto sim, ponderações.
Primeira: a cifra de 39,5% de analfabetos em 1960 não se deve à dinâmica interna da escola, mas à privação do acesso a ela: quem a frequentava, ainda que sem concluir o primário, saía, em geral, realmente alfabetizado. Hoje, nem o diploma de curso superior é garantia de plena compreensão de texto – e, menos ainda, de uma escrita aceitável.
Segunda: se a escola atendia à metade da população total e quase toda a população urbana, não cabe dizer que não se tivesse massificado e a isso devesse sua excelência.
Terceira, e principal: como todos os grandes problemas nacionais, este também se encontrava em vias de solução no bojo das reformas de base. Darcy e Anísio encetavam a reversão do revés de 1961. Na mensagem enviada ao Congresso dois dias após o comício da Central e dezesseis antes do golpe, Goulart anunciava o fim da prova de admissão ao ginásio como mecanismo de expulsão do sistema escolar, mandando matricular todos os excedentes e reprovados nela.
10
A nota distintiva daquele regime face a todos os outros que o Brasil teve era a margem à ampliação de seus próprios marcos democráticos. Não era preciso derrubá-lo para solucionar os problemas que lhe eram próprios e os da estrutura socioeconômica do país: ao contrário, precisaram depô-lo os que se propunham impedir tais correções.
Claro que, de ter ocorrido, elas o teriam transformado qualitativamente; e que, para ocorrer, demandavam meios extraparlamentares; mas nele cabiam lutas sociais radicalizadas, inclusive com uso de armas, como se dava na questão da terra.
NOTAS
[1] https://pibdiv.org/2013/07/festas-juninas-por-que-nao/ . Em sentido distinto: https://comunhao.com.br/crente-pode-ir-a-festa-junina/
[2] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11784.htm